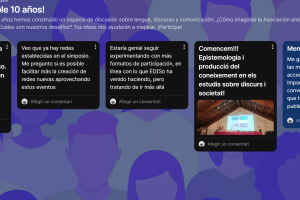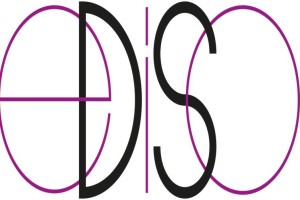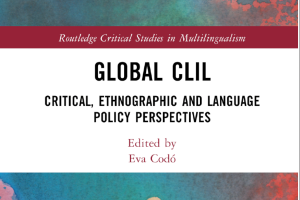Noticias Ediso
¡Ya está en marcha el trabajo de la nueva Junta Directiva de EDiSo!
La nueva Junta Directiva de EDiSo, constituida tras la aprobación de la Asamblea realizada el 29 de junio de 2023, ha quedado conformada de la siguiente manera: • Copresidencia: Yvette Bürki (Universität Bern) • Copresidencia: Carmen López Ferrero (Universitat Pompeu Fabra) &bul ...
07 February, 2024